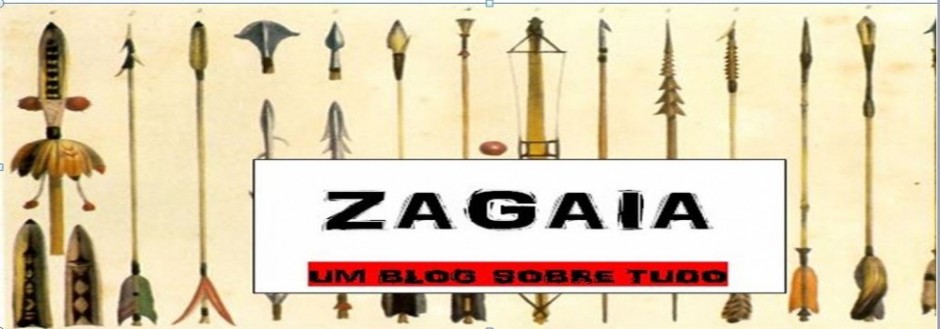Rodrigo Montoya é professor emérito da Universidad Nacional Mayor de San Marcos, em Lima. Além de professor, Montoya é autor de mais de quinze livros sobre a situação política e a história do Peru. Conversamos com frequência via WhatsApp e desde uns quinze dias atrás nosso diálogo centrou-se na situação criada pela atuação de Pedro Castillo, o camponês e mestre-escola andino que concorreu à presidência e recebeu cerca de 1/3 no primeiro turno dos votos.
No segundo turno a adversária foi Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori, que está preso, condenado pela justiça peruana a 25 anos de prisão. Keiko aglutinou toda a direita peruana ao seu redor, mas Castillo ampliou suas ligações com o mundo andino e ganhou a eleição, por pequena margem.
Sua presidência, entretanto, foi marcada por extrema turbulência nas relações com o Congresso, sucessivas mudanças de ministério e acusações de corrupção contra seus familiares e auxiliares.
Castillo tomou posse no dia 28 de julho de 2021. No dia 7 de dezembro de 2022 dirigiu-se ao Congresso para comunicar que estava dissolvendo o parlamento e que iria convocar eleições para criar uma nova constituição. Foi preso em seguida pelo exército e o Congresso que ele propunha dissolver o depôs.
Pouco tempo depois começaram as mobilizações nos departamentos (estados) do sul do Peru. O diferente nesse caso foi que essas mobilizações foram feitas principalmente pelas “Comunidades”, instituições camponesas de origem inca, e que passaram por grandes transformações. Essas mobilizações continuaram crescendo, assim como a repressão, causando mais de 60 mortes entre os manifestantes.
O ineditismo está precisamente no fato dessas mobilizações serem feitas a partir das comunidades quéchuas e aymaras e é esse processo que o prof. Montoya analisa em profundidade no artigo a seguir (em espanhol).

O artigo do professor Rodrigo Montoya:
Primera rebelión política en los últimos 200 años de las comunidades quechuas y aymaras en Perú (2022-2023)
Lima, febrero 9, 2023
El 23 de marzo de 2022, escribí por última vez sobre la política peruana, urgido por terminar mi libro 200 años de la república y nación fallidas en Perú, con problemas de salud, y convencido de que la esperanza de cambio abierta por el triunfo de Pedro Castillo estaba ya frustrada. Hoy, vuelvo a escribir por la necesidad de intentar mostrar la originalidad de la rebelión quechua y aymara, en curso desde diciembre de 2022. Lo sucedido hasta aquí puede ser suficiente para tener una primera aproximación, aunque quedan pendientes numerosas incógnitas, dudas y vacíos en medio de algunas certezas.
En el contexto de la polarización extrema del país desde la segunda vuelta electoral de 2021, la aparente unidad y fraternidad peruana volvió a hacerse pedazos y llega a su límite, ahora cuando las comunidades andinas y amazónicas se rebelan con marchas y tomas de carreteras en dos tercios del país. Como dijo el señor Fernando Cillóniz, burgués agrario y exgobernador de Ica:
“¿Guerra o esclavitud? ¿Libertad o tiranía? ¿Democracia o dictadura? ¿Civilidad o barbarie? El hecho es que, ante esta situación, la alternativa del diálogo es inútil… por no decir estúpida… Por otro lado… ¡basta de humanismos hipócritas!..
Pero ojo. Distingamos una guerra de la otra. Hoy es el momento de la guerra por nuestra libertad y nuestra democracia. Hoy es el momento de la guerra contra la tiranía y la barbarie. La guerra contra la corrupción e inoperancia del Estado la tenemos que luchar, pero en su momento.
En esta otra guerra contra la tiranía y la barbarie son ¿ellos o nosotros? Uno de los dos tiene que sucumbir. Me refiero a que uno de los dos tiene que ceder. Uno de los dos tiene que rendirse. Uno de los dos tiene que someterse al otro. Ellos y nosotros somos mutuamente excluyentes… somos incompatibles. No es posible convivir El momento es tan dramático que nos obliga a respaldar al Estado. Sí… a ese Estado que tanto cuestionamos. El momento es tan decisivo que nos obliga a respaldar y apoyar a la Policía Nacional del Perú (PNP) secundada por las Fuerzas Armadas (FFAA). Sí… a esos policías y a esos soldados que están arriesgando sus vidas por nosotros.
Fuente: Cillóniz Fernando, “La guerra es horrible… pero la esclavitud es peor”.
Uno. 2020, 2021. Encanto del profesor Pedro Castillo, su sombrero, su lápiz y su caballo
Cuando el profesor Pedro Castillo apareció en la escena política electoral peruana en 2021 -aquel del sombrero chotano, el lápiz, su caballo, sus faenas en la chacra y su castellano andino-, algo más de un tercio del electorado votó por él en la primera vuelta, viéndolo como una esperanza política, como un hombre de izquierda. Lo sintieron como alguien parecido, cercano. Quizá era solo eso. Desde que llegó a la segunda vuelta para competir con la Señora Keiko Fujimori, la señora K, por eso de la corrupción, todas las fracciones de derecha sintieron que su piso político se movía; le dijeron de todo para descalificarlo, vieron en él un peligro comunista, una reencarnación de Sendero Luminoso. Hicieron lo imposible para que la señora K no pierda su ambición presidencial por tercera vez. Un año después de su ajustada victoria, el presidente Pedro Castillo, dio pruebas suficientes de que no era de izquierda y lo más grave es que sus adversarios perdedores mostraron un buen día que el presidente tenía otros intereses a partir de un paquete de 20 mil dólares en el baño de la oficina del secretario general del despacho presidencial, uno de sus funcionarios de entera confianza. Agobiado por las evidencias de ser parte de una red de corrupción, el 7 de diciembre de 2022, en un discurso televisado desde palacio (como Fujimori en 1992) anunció:
“Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución, en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley”. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios”.
Duró menos de dos horas su ilusión de convertirse en una especie de dictador. Apresado, fue llevado al cuartel Barbadillo, ahí donde el ex presidente Fujimori está condenado a 25 años de cárcel. Entre 2016 y 2022, la incipiente y vigilada democracia peruana ha tenido cinco presidentes: Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Dina Boluarte. Cuando la señora Boluarte aceptó la propuesta del Congreso de la República para ocupar la presidencia en su condición de vicepresidenta, cometió probablemente su primer error político grave porque los partidarios del ex presidente la declararon “traidora” por haber prometido unos meses antes en Puno que, si el presidente Castillo caía, ella se iría con él.
Inmediatamente después, comenzaron las protestas en el sur. Los partidarios de Pedro Castillo salieron a las calles y plazas. Siguiendo el viejo libreto de la historia peruana, la policía apoyada por las Fuerzas Amadas trató de apagar un incendio matando manifestantes. Luego de los primeros fallecidos en Andahuaylas y Ayacucho, los rebeldes andinos quechuas y aymaras dejaron de llamar “Dina traidora” a la señora presidenta y la calificaron “Dina asesina”. Al 6 de febrero ya son 65 fallecidos. Las protestas en distritos, provincias y departamentos fueron seguidas por un sorpresivo anuncio: harían un largo viaje para la “Toma de Lima”.
Dos. Después de la represión y muerte en provincias: seguiría una “Toma de Lima”
De muchos modos, en cartelones, dibujos animados, acuarelas, pancartas, fue reproducido en las marchas en provincias y en Lima el texto de José María Arguedas
“Al inmenso pueblo de los señores hemos llegado y lo estamos removiendo. Con nuestro corazón lo alcanzamos, lo penetramos; con nuestro regocijo no extinguido, con la relampagueante alegría del hombre sufriente que tiene el poder de todos los cielos, con nuestros himnos antiguos y nuevos, lo estamos envolviendo. Hemos de lavar algo las culpas por siglos sedimentadas en esta cabeza corrompida de los falsos wiraqochas, con lágrimas, amor o fuego. ¡Con lo que sea! Somos miles de millares, aquí, ahora. Estamos juntos; nos hemos congregado pueblo por pueblo, nombre por nombre, y estamos apretando a esta inmensa ciudad que nos odiaba, que nos despreciaba como a excremento de caballos. Hemos de convertirla en pueblo de hombres que entonen los himnos de las cuatro regiones de nuestro mundo, en ciudad feliz, donde cada hombre trabaje, en inmenso pueblo que no odie y sea limpio, como la nieve de los dioses montañas donde la pestilencia del mal no llega jamás. Así es, así mismo ha de ser, padre mío, así mismo ha de ser, en tu nombre, que cae sobre la vida como una cascada de agua eterna que salta y alumbra todo el espíritu y el camino”. (A nuestro padre creador Túpac Amaru, Himno-canción).
También pudo oírse en múltiples espacios y ocasiones la voz de Arguedas, leyendo ese poema o cantando waynos. Arguedas, el novelista antropólogo, poeta, escritor, héroe cultural, ya es una figura política, capaz de inspirar acciones para transformar la realidad. Su rostro ondea entre banderas: la peruana roja y blanca, la andina, con colores del arco iris, acompañadas por una novedad: la bandera peruana de luto, en la que el negro reemplaza al rojo; en ella es el duelo que flamea, junto con lágrimas de comunidades enteras y familias que perdieron a sus hijos caídos por balas de las fuerzas armadas y policiales (cayó también un policía que habría sido quemado dentro de su vehículo patrullero), las cifras seguirían aumentando, son ya 65 si se toma en cuenta que 7 migrantes haitianos, hermanos que viven la tragedia de ser errantes, que desde las fronteras peruanas tratan de seguir la ruta del norte con la esperanza de llegar a Estados Unidos, encontraron la muerte, ahí donde estaba de paso. No eran manifestantes. No obstante, se nota una ausencia notable entre las banderas: la roja con o sin la hoz y el martillo, aquélla clásica de los trabajadores del mundo y de los partidos comunistas. Se trata de otros tiempos, sin duda. Si hubo algunas, no pude verlas en la televisión, tampoco en las redes.
Los provincianos que vinieron a Lima en enero de 2023, no tienen la fantasía de los caballos de Troya, reproducida de la tradición griega por sociólogos y antropólogos encantados por la modernidad y su sueño de conquistar Lima para cambiarla (Jurgen Golte, Norma Adams y otros Los Caballos de Troya de los invasores: estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima. 1990). Llegaron y siguen llegando los visitantes para mostrar su dolor e indignación, su rabia andina ante tantas muertes y abusos, para expresar su decisión de no soportarlos más, de no ser excluidos, ninguneados, reducidos a la condición de “nadies”, de ser insultados (indios de mierda, cholos de mierda), como si ahora en enero de 2023 no fueran seres humanos, como si el tiempo se hubiese detenido en algún lugar del pasado. Llegaron para algo parecido a un arreglo de cuentas con la limeñitud e informar que las comunidades quechuas y aymaras toman sus propias decisiones, conocen sus derechos y el país, que ya no son unos indios ignorantes, convertidos en terroristas-terrucos, manejados por “movadefos”, Evo Morales o el comunismo internacional”. El fondo de esta versión de las Fuerzas Armadas deriva desde 1930.
Llegaron y siguen llegando a Lima, pequeñas delegaciones de comunidades, distritos y provincias, acompañadas y o seguidas de manera independiente, sumándose a las marchas, por los nuevos obreros en el valle de Ica, por La CGTP, por delegaciones de trabajadores, profesores, pobres convertidos en mineros eventuales, en buscadores de oro, formales-legales-ilegales, que no por buscar oro, o plata dejan der ser hombres mil oficios, obligados a trabajar en condiciones infrahumanas como en La rinconada, en Juliaca, en beneficio de los aliados de la señora Keiko Fujimori.
En las manifestaciones políticas o gremiales, hay casi siempre dos componentes: uno: mayoritario, pacífico, que marcha para expresar sus protestas y propuestas; otro: minoritario que no se conforma con corear sus consignas y trata de responder a la policía que reprime, lanzándole piedras o lo que encuentran. De los Andes bajaron algunos con huaracas (hondas) para lanzar pequeñas piedras. La confrontación con la policía es enteramente desigual, porque la policía se arma y prepara mejor año a año y dispone de equipos personales para no sufrir los gases que los manifestantes suelen devolverles con rapidez. Como ocurre en ciudades norteamericanas y europeas, hay siempre los llamados vándalos, jóvenes que se llevan lo que pueden de los almacenes que la policía no alcanza a proteger. Aparecen en Estados Unidos, Paris u Honolulú. Calificar a todos los que protestan como vándalos comunistas y etc., es una tesis lanzada desde el poder y sus fuerzas militares y policiales. Luego de un mes de bloqueo irregular, discontinuo de carreteras, (al parecer, continuo en Madre de Dios) y conflictos en las zonas mineras, los daños y perjuicios para los propios segmentos populares, así como para las empresas, principalmente de turismo, son evidentes e innegables. Del gobierno y el congreso dependen que esos daños no sean mayores.
En un primer momento (diciembre 2022) las protestas fueron locales y rápidamente ganaron capitales de provincias y de departamentos del Sur. Creían que el presidente Castillo fue víctima de todas las derechas que nunca aceptaron su victoria electoral, que no lo dejaron gobernar y no le dieron el trato de respeto que todo presidente debe merecer, como una autoridad elegida democráticamente. Desde el poder, los reprimieron con el menosprecio de siempre, sus gases lacrimógenos, golpes y balas.
Algo que llamó mucho la atención de los medios de comunicación en las marchas de la primera semana fue el apoyo inicial al ex presidente Pedro Castillo. Un pilar de esa defensa ha sido la esperanza que Castillo encarnó en los pueblos andinos, amazónicos, costeños, en los pueblos jóvenes de todas partes y en las capas populares urbanas de Lima y muchas otras ciudades. Todas ellas y ellos vieron que en los medios de comunicación concentrados se insultó al candidato y se maltrató al Presidente electo. La campaña fue demoledora, intensificada desde la segunda vuelta y que no se detuvo sino en diciembre de 2022, cuando, finalmente, fue vacado por “incapacidad moral”. Lo ningunearon calificándole de: analfabeto, burro, torpe, ignorante, no sabe ni hablar, ser hombre de Sendero Luminoso y el MOVADEF, un terruco, un comunista. Sintieron los insultos como si fueran dirigidos también a ellos, y lo que más les dolió es que se maltratara de esa manera a un presidente de la república. Hay en provincias y en los pequeños pueblos un respeto muy grande por la autoridad, derivado directamente de su propio respeto a las autoridades comunales, son democráticamente elegidas. Esos insultos y maltratos, ahondaron la distancia que separa a los medios de comunicación de los pueblos andinos, costeños y amazónicos. A lo largo de la historia fue acumulándose una desconfianza que concluye en no creerle a los medios por su fundamental identificación con los grupos de poder en Lima, regiones, y provincias del país. Le creyeron también al presidente Castillo, quien, para defenderse de las acusaciones de corrupción, expresó en sus múltiples visitas a provincias y en Palacio de Gobierno cuando recibía a delegaciones especialmente invitadas por él, que ninguna de esas acusaciones era cierta y que el problema de fondo era que no lo dejaban gobernar por ser un cholo salido del pueblo. Por otro lado, sintieron también que el presidente era víctima de una persecución judicial con acusaciones que no se probaron y que no tenía sentencia alguna.
Les quedaba la esperanza, Castillo era como ellos, y debían defenderlo. La nueva presidenta Dina Boluarte, su primer ministro Otárola y sus ministros de Defensa e Interior, contribuyeron decisivamente en la radicalización de una protesta fundada en esa simpatía cuando reprimieron con balas y los acusaron de ser terroristas, terrucos, senderistas, vándalos y etc. Se vieron como víctimas de una traición de Dina Boluarte y de su represión sangrienta. Su protesta frente a las muertes, sentidas y lloradas, les dieron la fuerza suficiente para decidir ir a Lima por primera vez, a pedir que la presidenta renuncie, que se cierre el congreso, que se vayan todos, que una asamblea constituyente seria indispensable o una consulta directa al pueblo para saber si quería o no una nueva constitución. Al final de este listado quedó la reposición del presidente Castillo. Como oí tantas veces, “Castillo ya fue” (ya pasó), y “Antauro Humala ya fue”. Uno de los cucos que habría dirigido todo el complot contra la democracia, quedó fuera de carrera, por mostrar su solidaridad con Dina Boluarte. Parte de sus ex soldados, reservistas, tuvieron y tienen una clara presencia en las manifestaciones, con su formación, capacidad física suficiente para correr y enfrentar a la policía por su propia cuenta.
El segundo momento (enero-febrero 2023) fue decisivo para el surgimiento de la rebelión a partir de las primeras muertes de manifestantes por balas disparadas por la policía y por el ejército. A las primeras en Andahuaylas, le siguieron las masacres en Ayacucho y Juliaca. Lloraron a sus muertos, no se trata de “bajas” o de “NN” como en los informes policiales o en los partes del ejército. Sus muertos tienen nombres y apellidos, padres, madres, hermanas, varios eran niños, un adolescente de 15 años quería ser policía, un estudiante de medicina y un carpintero vecino, ambos baleados, asesinados, cuando trataban de ayudar a hermanos heridos. Por la rabia de haber perdido a sus seres queridos y por la impotencia de no poder conseguir justicia en las cortes provinciales y departamentales, fueron considerando lentamente la decisión de ir a Lima. Luego, se tomaron las decisiones comunales por excelencia. En Lima está el palacio de gobierno; de ahí parten las órdenes de matar en Juliaca, en Andahuaylas o en cualquier parte de Perú. “Vayamos a Lima, a ver si ahí encontramos la justicia que castigue a los responsables de nuestros muertos”. Esta fue la gran novedad política en Perú, que continúa en las calles por eso de los relevos (regresos y nuevos visitantes) y por la creciente solidaridad que encuentran en la inmensa Lima metropolitana, mientras la presidenta Dina Boluarte sigue en su nube tan lejos de la tierra; mientras la mayoría derechista del congreso, cree que está por encima de la ley y que la ley está por encima de un descontento nacional de dos tercios de la población que exigen “que se vayan todos”.
No vinieron a reclamar carreteras, postas, escuelas y etc, etc; están en Lima, para mostrar su indignación por los muertos, para llorarlos en serio con voces muy altas exigiendo justicia. Llegaron para decirles a los limeños, que siguen sintiéndose dueños del Perú, que ellas y ellos, visitantes forzados, no son terrucos, terroristas, ciudadanos de segunda o quinta categoría, enemigos del Perú o peruanos malos, ignorantes, analfabetos, brutos, burros, bárbaros, salvajes, indios de mierda. Vinieron a informarles por calles y plazas, que se sienten ciudadanos con derechos, que ya saben leer y escribir, que tienen hijos profesionales y que ya no aceptarán más el trato bárbaro y salvaje que reciben de los que gobiernan, de los que van a matarlos y luego les piden diálogo. Vienen en abierta lucha contra la muerte por los siglos de siglos que llevan como los NN asesinados sin justicia alguna que les devuelva algo de su dignidad pisoteada. Si los periodistas y comunicadores del orden establecido los escuchasen en castellano y pidiesen que traduzcan su pensamiento e indignación, entenderían algo que el cemento cerebral colonial y republicano les impide oír.
El poder del gobierno, de militares y policías, en Lima recibe a los visitantes como indeseables enemigos de la patria, los comités policiales y militares anuncian diciendo: vienen los terrucos, senderistas con “máscaras de movadefos”, los comunistas, a saquear y robar Lima, a perturbar la paz y la propiedad en Lima. Dina, sus jefes militares y policiales, hicieron lo imposible para evitar que lleguen, tratando de apresar a visitantes con antecedentes penales, fracasando en su intento.
A los que llegan a las calles y plazas de la “ciudad de los falsos wiracochas” como escribió Arguedas, los reciben con enormes contingentes de policías armados como extraterrestres, cercándolos, obligándolos a no reunirse con los otros grupos de las marchas para que en las pantallas de la TV se vea que solo se trata de pequeños grupos y no de la protesta más grande, larga y original de la historia de Lima. Los encierran como si trataran de enjaularlos; a pesar de todo, corren, se reagrupan y siguen coreando sus gritos de protesta con pancartas, banderas, bombos, cantos y pasos de danzas de recorrido, los viejos puqllay-juego, llamados después carnavales, siguiendo sus viejas tradiciones de canto y alegría, de trabajo y fiesta, de protesta y fiesta. Cómo no destacar que, en medio de esta visita de protesta, reluce la presencia valiente y combativa de las mujeres de todas las edades, con sus polleras, llicllas y wawas mejor queridas y tenidas en sus espaldas, despertando a otras realidades con los ojos muy abiertos. No va más la vieja táctica de la izquierda limeña de usar a los artistas mientras los compañeros llegan y llenan las plazas; ahora los artistas son sujetos políticos, participantes activos en las marchas, con su música, danzas, canciones, instrumentos, vestidos como un arcoíris, con sus alegrías, penas y lágrimas.
En vez de cuidar y proteger al pueblo según sus angelicales protocolos, los reciben en plazas y calles de Lima con gases lacrimógenos, una especie de incienso que acompaña el primer castigo o primer rito de iniciación por la osadía de atreverse a molestar la quietud y belleza de Palacio del gobierno y el Congreso, que parecen espacios sagrados intocables, donde moran quienes gobiernan y dan las leyes, tan lejos, tan arriba, tan más lejos y tan más arriba, para no confundirse con el resto de peruanas y peruanos, sobre todos los de las naciones-pueblos-culturas-lenguas-patrias jamás reconocidos como unidades colectivas y sí tomadas en cuenta solo cuando hay que pedirles sus votos, a través de cada uno y una de sus individuos, por eso del ideal republicano de una persona, un voto; y luego, nunca más, hasta la elección siguiente. Los gases lacrimógenos sirven para hacer llorar a los que protestan, para decirles que no vuelvan, que el poder no los quiere, ¡cuidado! porque después podría venir la muerte, ya la conocen, sería mejor que regresen por donde vinieron y no molesten más.
Siguen coreando su razón principal: ¡Justicia para nuestros muertos!, Dina es la responsable, ¡Que se vaya “Dina asesina”!, que se cierre el congreso y se vayan todos, por una asamblea constituyente o una consulta al pueblo sobre la necesidad de una nueva constitución; también se oye, pero con menos fuerza, el reclamo de devolución de la presidencia de la república a Pedro Castillo.
Luego de las masacres en Huamanga y en Juliaca, era posible esperar que la muerte volviera a hacerse presente en Lima como en el caso de Inti y Brian, en Lima, noviembre 2020. Pero hasta el 28 de enero, esa muerte, felizmente, no llegaba. Se trataría de una posible buena noticia. La pancarta “Ni una muerte más” ha sido oída entre sectores mucho más vastos que las decenas de miles de manifestantes y ha sido tomada en cuenta por las fuerzas Armadas y policiales por lo menos en un tiempo prudente. Podría haberse producido un cambio derivado de un hecho nuevo y evidente: la importancia política de los celulares: un manifestante, un celular; tanto vecinos y observadores de la manifestación con sus celulares, mujeres y hombres, grabando, tomando fotos; de cámaras de televisión en casas privadas y comerciales, además de las cámaras de TV de la Municipalidad de Lima; son numerosos y suficientes testigos para seguir paso a paso los acontecimientos. Disponer de celulares con infinidad de grupos de contacto en Whatsapp es el recurso organizativo de primer orden para coordinar las manifestaciones y asegurar quiénes, cuándo llegan y en qué lugar de concentración se reunirán. También para que la solidaridad se multiplique. Lamentablemente, Víctor Santisteban, limeño yauyino fue la primera víctima en la capital, por una bomba lacrimógena disparada por un policía a 8 o 10 metros de distancia.
Millares de videos y fotos enviados y multiplicados por grupos de Whatsapp, a partir de la presencia política de las comunidades quechuas y aymaras de diciembre 2022 y enero 2023, son fuentes de información de primer orden si se tiene la precaución de separar la paja del trigo; las noticias y verdades falsas, las versiones aparentemente ciertas. El fin del monopolio de la información de fuentes oficiales y la prensa concentrada, ya está anunciado y debidamente convertido en realidad.
Tres. Lo nuevo de diciembre 2022 y 2023. Primera rebelión política de las comunidades quechuas y aymaras: la comunidad como unidad colectiva
En la segunda mitad del siglo XX y en los primeros 25 años del siglo XXI, se han producido ya tres rebeliones políticas de los pueblos indígenas en Perú suficientes para revisar los conceptos con los que se quiere entender la realidad y las tesis sostenidas sobre las políticas a seguir. La primera comenzó con los arrendires de la Convención y la ola siguiente de tomas de tierras en Cusco, en el sur y centro del país, 1962-64, con las que se abrió el camino para una lucha nacional contra el omnímodo poder de los hacendados en cuatro siglos. La reforma agraria del gobierno militar del general Velasco (1969) selló la desaparición de esa clase y de sus siervos. La segunda llegó 50 años después, en Bagua (2008-2009), con los pueblos indígenas amazónicos, desafiando y venciendo al presidente de la República Alan García por enfrentar a las comunidades nativas, buscando crear las condiciones para que los nativos vendan sus tierras a grandes empresas multinacionales y nacionales y para demostrarle que los indígenas amazónicos no son “perros del hortelano que no comen ni dejan comer, ni “ciudadanos de segunda o quinta categoría”.
La de diciembre 2022 y enero 2023 es de las comunidades principalmente andinas, quechuas y aymaras, contra la política peruana en general y de la presidenta Dina Boluarte, en particular, luego de la caída de la prisión de Pedro Castillo.
Se trata de la primera rebelión abiertamente política de las comunidades quechuas y andinas de nuestra historia después de su participación en la revolución de Túpaq Amaru, Túpaq Katari y Tomás Katari. No se trata de una reivindicación puntual como la de la tierra, para que las comunidades recuperen sus tierras expropiadas por las haciendas, para que los siervos se queden con sus parcelas y no trabajen más para los hacendados; tampoco se trata de una reivindicación simple para defender tierras comunales frente a la voracidad de las empresas multinacionales y nacionales solamente como en Bagua. Es la protesta masiva en calles y carreteras del sur andino y del centro y oriente del país y en Lima. Tiene por objeto lograr principalmente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Se trata del arreglo de cuentas más fuerte con el limeñismo del país, con todos sus racismos y menosprecios.
En la complejidad peruana de hoy, hay dos modos de mirar nuestra sociedad pluricultural. De un lado, la concepción occidental capitalista, que considera a la sociedad como un conjunto de individuos y nada más. De otro, la concepción de los pueblos indígenas cuyas comunidades son unidades colectivas, células de los pueblos quechua, aymara y amazónicos. El sistema político oficial vigente solo reconoce a todas las personas nacidas en nuestra patria-territorio como simples individuos con un voto cada uno-una desde los 18 años de edad, como expresión de su participación política para renovar presidentes, congresistas, gobernadores y alcaldes, cada 5 o tres años. Solo eso. El pueblo en su acepción general y en todos sus componentes específicos, solo ejerce ese derecho. ¿Cuántos de sus individuos pueden llegar a ser presidentes, congresistas, gobernadores y alcaldes? Pocos, muy pocos, porque a los 18 años, saber leer y escribir son claramente insuficientes. A pesar de los muchos cambios en los últimos 50 años, la formación profesional, la tradición familiar, los vínculos profesionales con los grupos económicos de poder, pesan aún; no así la pertenencia a cúpulas partidarias. La categoría “candidato invitado” asociada al voto preferencial da cuenta de la grave crisis de los partidos.
La concepción indígena que sitúa a la comunidad como unidad colectiva tanto en la vida económica como social y política, que no es un individuo ni una suma de individuos sino una institución de dirección por participación plena y por consenso en cada una de sus decisiones, es un patrimonio propio, exclusivamente indígena, entendido, vivido y sentido dentro de las comunidades. Esa concepción es ajena a los llamados mistis o medianos y pequeños ex señores locales en distritos, provincias y regiones. Algunos pueden conocerla desde fuera, e incluso desde cerca, pero no forman parte de ella y no tienen obligaciones, tampoco exigencias ni retribuciones simbólicas, como el orgullo de haber servido a la comunidad cumpliendo cada uno de los cargos anuales desde los 16 o 17 años hasta haber sido alcaldes mayores y presidentes de las comunidades, y de haber pasado los cargos religiosos en los calendarios indígena y católico.
Cuando sea posible un nuevo sistema político pensado a partir del conocimiento profundo de la realidad peruana y no como una simple copia del modelo occidental, una de sus mayores originalidades será el pleno reconocimiento de los derechos de las comunidades como unidades colectivas y de su representación política en tanto comunidades y/o pueblos-naciones-patrias-culturas-lenguas y su articulación con el voto de sujetos individuales fuera de las comunidades.
En el sistema político occidental, la información y el conocimiento de esta realidad de sujetos colectivos propios de los pueblos indígenas son suficientes para tratar de imponer por todos los medios la reducción de todo lo colectivo a sus individuos. Son muchas sus razones: retengo dos en el razonamiento que propongo. La primera es considerar lo colectivo como atávico, como algo del pasado, del viejo “tribalismo” que sería y debiera ser solo parte de la historia. La segunda es creer que el descubrimiento del individuo y su importancia es uno de los elementos claves de lo que se llama modernidad, y como un escalón positivo superior en esa ilusión capitalista del progreso. La aparición del individuo y el individualismo en la perspectiva del capitalismo es considerada por sus ideólogos propios y allegados, como una verdad indiscutible.
Comunidades andinas, costeñas y amazónicas; mandar obedeciendo. Democracia de abajo, sin discursos académicos ni políticos, sin buscarla ni pretenderla. Ignorada por la ciencia política.
La comunidad toma acuerdos por consenso, encarga su cumplimiento a los líderes, quienes tienen la responsabilidad de obedecer a la comunidad. La comunidad puede quitarles la condición de líderes en cualquier momento. Este es un elemento clave de los ayllus incas que se mantuvo dentro de la institución comunidad de indígenas, creada en el siglo XVI y reconocida parcialmente en la constitución de 1920. Cuando la corona española supo que la voracidad de sus conquistadores podría poner en peligro la existencia misma de los pueblos originarios, trató de protegerlos reuniendo en una nueva institución; de un lado, la nomenclatura y parte de la realidad de los municipios de España —cabildo, alcaldes, regidores, alguaciles— y la entrega de mercedes-donaciones de tierras que se llamaron desde el siglo XVI “Tierras del Común”, de donde derivan las palabras comunidad, comunero, comunario. De otro, la tradición recreada del ayllu, a partir de la gestión de la tierra por familias dentro de una unidad colectiva, que era el ayllu inca de raíces pre incas individuales y colectiva en las tierras de pastos y la vida económica, social, política y espiritual a través de los principios de reciprocidad, complementariedad, bipartición, etc. La prueba contundente de la importancia de las comunidades andinas, costeñas y amazónicas es muy simple. Es la única institución colonial que se ha mantenido hasta ahora. La segunda fue la hacienda con siervos o con esclavos, que felizmente, ya desapareció.
Cada primero de enero se renueva la dirección de la comunidad y los dirigentes elegidos reciben el encargo de vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. El cabildo o la asamblea comunal que elige, tiene el derecho de revocar el mandato de los elegidos en cualquier momento. De la experiencia de ligarse profundamente a las comunidades indígenas en Chiapas y de haber entendido el fundamento y la finalidad del bien común en los pueblos indígenas, deriva la propuesta condensada por las comunidades chiapanecas y difundida por el subcomandante Marcos, (llamado hoy Galeano) de “mandar obedeciendo”, como un principio político alternativo al de representación del pueblo, propuesto por el ideal republicano de La ilustración europea y las revoluciones norteamericana y francesa.
Mandar obedeciendo es un modo de realización de la reciprocidad indígena en la esfera de la organización y gestión política. No por gusto en los ayllus-comunidades de Puquio, Lucanas, Ayacucho, en febrero, los alcaldes varas, las vísperas de los puqllay, (juegos-carnavales) ofrecían una fiesta de gratitud a sus ayllus por haberles dado el honor de ser sus autoridades por un año, sin reelección inmediata posible. En la rebelión de diciembre y enero (2022-2023), los grandes actores han sido las comunidades quechuas y aymaras. Este hecho es inentendible para las fuerzas armadas y policiales, ministros de defensa y del interior, y cuanta autoridad existe en el aparato del estado capitalista. Saltó la liebre de modo muy tímido aún en la esfera pública cuando desde el poder, sus funcionarios repetían a voz en cuello que “los terroristas” que toman las calles son financiados por narcotraficantes, mineros ilegales, bolivianos, Evo Morales, venezolanos, y por el comunismo internacional. La respuesta contundente fue: “basta de insultarnos, terruquearnos, disminuirnos. No somos terroristas ni terrucos, somos comuneros de las comunidades quechuas y aymaras. Nos movemos por nuestros acuerdos comunales y nos desplazamos con nuestros propios recursos; cada familia pone lo que necesita para salir por uno o más días, y la comunidad le ofrece el apoyo para completar lo que se necesita para pasajes y estadía”. Debiera saberlo la presidenta Boluarte, si tuvo en su vida un contacto directo con las comunidades de su provincia de Aymaraes en Apurímac, pero parece que pesó más en ella la línea defendida por las Fuerzas armadas y policiales, que ignoran desde siempre el papel y peso de las comunidades andinas, y creen con devoción en la versión clásica y antigua sobre infiltrados del exterior, comunistas terroristas, “terrucos” e indeseables como Evo Morales, ex presidente de Bolivia y “sus 8 agentes en Perú”.
Ante la magnitud de la protesta en 4 semanas continuas en buena parte del país, las y los periodistas y analistas defensores de las tesis oficiales y oficiosas del orden establecido se preguntan: quiénes dirigen, con qué recursos se organizan las marchas. Buscan solo individuos responsables, porque no se les ocurre que, detrás de esos “vándalos”, haya colectivos de dirección dispersos con coordinaciones locales eficaces gracias a la magia de Whatsapp. Un líder, un partido, una “nueva fracción roja” tienen que estar detrás. Nada de lo que ocurre puede ser espontáneo, tampoco imaginan que muchas veces hay siempre una primera vez. Cuando las marchas se multiplicaban, desde los ministerios de Defensa y del Interior salió a flotar una tabla de salvación: detrás de todo lo que ocurre “está Sendero Luminoso, con la máscara del Movadef”. Los sabios de esos ministerios saben muy bien que Sendero Luminoso es parte del pasado, cuyo fin comenzó con la captura de Abimael Guzmán en 1992, su división entre las fracciones de Proseguir (la lucha) y la de renunciar a la lucha para lograr la libertad de su líder. De esta corriente nació el MOVADEF con la intención der convertir a Sendero en un partido para participar en las elecciones. Un grupo de “Proseguir” partió al VRAEM. El MOVADEF fue reprimido y casi desapareció. En 30 años, la gente cambia, envejece, pierde ilusiones y fuerza, renuncia, abandona y lo último que pierde es la esperanza. No hay por qué no creer que queden viejos y medios militantes o cuadros que tratan de hacer algo. De ese pequeño fondo renace la esperanza de los pensadores de la represión oficial de ver a Sendero otra vez, con vida, como un probado argumento para asustar más, más aún si saben que el miedo es un recurso precioso para defender la democracia.
Las fuerzas militares policiales, la presidenta y sus ministros, y los periodistas y analistas de la verdad oficial, esperaban que con la invasión brutal al campus de la Universidad de San Marcos en Lima (irónicamente “respetando la constitución, la ley y los derechos humanos”) encontrarían a los senderistas, sus armas, panfletos, bombas molotov y planes de insurrección. Un tanque destrozó una puerta, cuando la puerta contigua estaba abierta, detuvieron a 193 personas, manifestantes venidas de comunidades andinas, estudiantes, personas solidarias con alimentos, y agua en el verano con 27 o 28 grados de temperatura. Muchas estudiantes residentes en la vivienda universitaria, fueron sacadas de sus habitaciones a empujones, gritos, carajos y golpes. A los detenidos, mujeres y hombres, los tiraron al suelo o los pusieron de rodillas, les ataron las manos a la espalda, los insultaron y humillaron. Hay muchos videos y audios que prueban lo que describo. 24 horas de miedo y terror, producido por los valientes policías haciendo muy bien su trabajo. 24 horas después, ante la presencia de abogados voluntarios, los policías liberaron a 192 de los 193 detenidos, sin cargo alguno. Uno fue retenido por tener “una requisitoria”, pero no dijeron por qué. Si hubiese sido por terrorismo o algo así, habrían celebrado ese minúsculo éxito. ¡Fue grande la desilusión! ¡No hubo ni un simple parto de los montes, ni un ratón en lugar del ansiado tigre! San Marcos quedó limpia de polvo y paja. Los pensadores y ejecutores de las políticas represivas callaron, como siempre.
Cuatro. Lima, su limeñitud, Lima, viejos y nuevos limeños. Histórica confrontación Lima versus provincias, andinas en particular
“Miraflores es una isla rodeada por el Perú”
(frase atribuida a Manuel Scorza).
En ochenta años, desde 1940 hasta aquí tenemos cuatro generaciones de migrantes de primera generación y por lo menos tres de hijos de migrantes andinos nacidos y criados en Lima. En los migrantes de primera generación y de sus hijos, el conflicto con la limeñitud como fenómeno de opresión, racismos y menosprecio, es evidente. Los hijos de segunda, tercera y cuarta generación en camino, comienzan a sentirse limeños y limeñas, nunca a plenitud, pero sí como limeñas y limeños para marcar claramente las diferencias con los pueblos y culturas de sus abuelos. Solo en los últimos tres o cuatro años comienza a hablarse en los medios de comunicación de Villa el Salvador, Comas, o San Juan de Lurigancho, por ejemplo, como distritos limeños. Antes se les conocía como barriadas, pueblos jóvenes, asentamientos humanos; luego, como aglomeraciones urbanas agrupadas en los conos norte, centro, este y sur, aunque en el habla local e íntima la categoría “pueblos jóvenes”, sigue en pleno uso en abierta oposición a Lima, la vieja Lima.
Los jóvenes rebeldes de noviembre de 2020 fueron actores decisivos de la vacancia del presidente Merino en solidaridad con los dos jóvenes Inti y Brian asesinados por la policía en las calles de Lima, pero no tuvieron la misma importancia que en los sucesos de diciembre 2022 y enero 23 y su violentísima represión, aunque es posible que una parte de ellos y ellas haya estado presente en las marchas luego de la brutal ocupación de la ciudad universitaria de San Marcos. Otra vez, como tantas en los últimos 200 años, lo ocurrido en Lima y en provincias, sobre todo andinas, no se ve con los mismos ojos ni se siente con un mismo corazón. No nos sentimos ciudadanos y menos como hermanos. Fracasó el ideal republicano de una nación integrada; fracasó el ideal republicano de “una nación” -patria de ciudadanos con derechos, ejerciéndolos, respetándolos, y no simplemente como fantasmas “iguales ante la ley”, en un “estado de derecho” que existe en Perú, sin duda, como un privilegio para el 10% de la población. Fracasó también la prédica cristiano católica de amar al prójimo como a sí mismo, en casi 500 años de cristianización forzosa de los llamados indios porque ese ideal ha sido conseguido solo parcialmente.
Cinco. Lo viejo del pasado, una especie de cemento cerebral en la derecha peruana
A pesar de las ilusiones de gran unidad peruana con el futbol y la gastronomía (“Contigo Perú”) y de la aparente buena voluntad después que la pandemia desnudó al Perú con todas sus miserias, peruanas y peruanos, hoy (2023) seguimos viéndonos unos a otros como adversarios-enemigos, divididos desde nuestros primeros grandes ancestros, los medio hermanos Huáscar-Atahualpa, en la orilla inca, y Francisco Pizarro y Diego de Almagro, enemigos a muerte, desde la orilla española. Nos guste o no, derivamos de esas guerras fratricidas, puras y duras por el poder. Desde 1532 hasta hoy, la Iglesia instaló en todo el territorio inca, su perspectiva bíblica de la lucha entre cristianos y paganos (aquellos que no tenían ni idea de lo que era ser cristiano), ángeles versus demonios; dios cristiano versus el diablo; cielo-versus infierno y una estación intermedia en el purgatorio, luego del juicio final. Esta fue una perspectiva grecorromana y judeocristiana, mucho más elaborada que la antiquísima oposición-lucha entre el bien y mal, prácticamente universal en todas las culturas del mundo.
Hoy, las Fuerzas armadas y policiales nos dividen entre buenos y malos peruanos, De un lado, ciudadanos demócratas, republicanos, nacionalistas y patriotas, devotos del respeto a Dios, la propiedad, la familia, la constitución, (el evangelio de la constitución de 1993, considerada como un bien eterno, solo enmendable en algunos pequeños puntos, y el estado de derecho). De otro, los comunistas, senderistas, terroristas-terrucos, salvajes, bárbaros, enemigos de la democracia, vándalos, enemigos del Estado de derecho, de las autoridades militares y civiles que sacrifican sus vidas por “todos los peruanos”, y que serían “verdaderos héroes nacionales”.
En la situación límite que vive el Perú durante la rebelión andina quechua y aymara de diciembre 2022, enero y febrero 2023, nos dividen en dos bandos: en uno, los jefes políticos, militares y civiles del poder, la presidenta, los congresistas de todas las pequeñas bandas de la derecha, en disputa por saber quién es más reaccionario que quién, los antiguos jefes que sobreviven a la desaparición de sus partidos y desean irse del mundo como sacrificados líderes de la democracia. Les siguen miles de funcionarios y exfuncionarios del Estado, y otros miles más de gentes que tienen poco o nada, pero viven la ilusión de ser parte de las capas medias y votan por los candidatos de derechas para cerrarle el paso a los cholos que vienen de abajo. Pertenecerían al segundo bando, los senderistas probables fantasmas salidos de sus sepulcros, del olvido, de las cárceles, de la clandestinidad. Nadie en los últimos 20 años ha puesto una bomba como la de la calle Tarata en Miraflores (1992), tampoco se ha producido un “ajusticiamiento” de militares, políticos, líderes sindicales y campesinos; ni voladuras de torres, apagones, destrucción de empresas para “regalar” el ganado fino al pueblo a condición de venderlo y no intentar criarlo, o para matar alpacas preñadas. Todo eso es parte del pasado; por lo tanto, decir que los senderistas están detrás de la violencia, no corresponde a la verdad. Si existen senderistas hoy día, serían de un nuevo tipo, por definir. Si los “movadefos” son la máscara del “senderismo terrorista”, serían otro grupo de fantasmas, sin nombres, apellidos o caras visibles, capaces de aparecer en manifestaciones políticas en las calles, por lo menos con un cartel de apoyo a los manifestantes. Su silencio sigue siendo sepulcral. No hay por qué no suponer que en momentos en que nuevos actores toman las calles para decir “aquí estamos, somos todavía”, algunos viejos cuadros senderistas salgan de su silencio tratando de buscar un lugar en medio del calor de las marchas callejeras y tener alguna esperanza para el poco futuro de vida que les queda. El cambio de dos generaciones en 40 o 50 años, son mucho más importantes de lo que podría suponerse. Solo una visión política pobrísima en imaginación y seriedad podría suponer que el senderismo dirige y es responsable de lo que pasa en Perú hoy. La pregunta que sigue sin respuesta en los últimos 30 años, es por qué las Fuerzas Armadas y policiales siguen atribuyéndole a Sendero Luminoso una vida e importancia que ya no tiene. Sus razones tendrán. Bueno sería conocerlas.
Después de 1930-1950, la derecha en Perú dejó de leer, de pensar, de estudiar el Perú, de sentir los cambios porque solo tuvo atención a defender sus intereses, a renovarse, crecer económicamente y a ensanchar su poder político. Se atribuye al periodista Juan Carlos Tafur, la calificación de “Derecha Bruta y Achorada”, DBA; “bruta”, por su ignorancia de lo que es Perú; y “achorada”, porque ha aprendido las malas maneras y la pequeñez de los choros, esos pájaros fruteros, ladronzuelos avispados y otros ladrones mayores que conocemos en los barrios.
Para esa DBA, sus directores de medios, periodistas, congresistas aliados, y para los jefes de las fuerzas armadas y policiales, los llamados indios siguen siendo considerados como ignorantes, individuos “sin cultura” y por eso, habría que educarlos, culturizarlos, civilizarlos, llevarlos de la mano como a niños que no se valen por sí mismos. Esta concepción deriva de la Iglesia Católica, Pizarro y el Virrey Toledo. Pronto, estas ideas tendrán 500 años y gozan aún de buena salud. Su fuerza y conservación en el tiempo, están fijadas con cemento en los cerebros de quienes disfrutan del poder, en otros que participan en pequeñas partículas de ese poder, y en quienes, sin ser ricos ni nada parecido, se sienten bien lejos del pueblo con el que tratan de no confundirse.
Temen perder sus privilegios y no aceptan la necesidad de aprender, de abrir los ojos, porque creen que sus privilegios serán eternos. Nunca pensaron que el ideal del bien común propuesto por la república, suponía también un compromiso con sus trabajadores, y con todas las capas populares, urbanas e indígenas del país (no podría atreverme a afirmar que alguna vez lo supieran). No se les ocurre admitir la posibilidad de estar equivocados y que los de abajo tienen razones profundas para protestar. Responden inmediatamente con la represión y de cada confrontación grande, pierden algo y creen que rápidamente se repondrán para que todo siga como antes. Pero nada será como antes.
Seis. El juego de la mecedora: llamados al diálogo sin decir entre quiénes y quiénes
Tenemos ya en Perú una larga práctica del juego de la mecedora. Es universal en la especie humana mecer la cuna de una wawa para que poco a poco se duerma y deje de llorar. Mecer, en política peruana es pedir y/u ofrecer “una mesa de diálogo” para que las partes se entiendan, lleguen a acuerdos y concluya la confrontación. No hay nadie que se oponga a la necesidad política de diálogo. Si preguntamos dialogo entre quién y quién o quiénes y quiénes, resulta inevitable que quienes lo piden miren el techo y la luna, bajen los ojos y pasen a… otra cosa, mariposa.
Los visitantes no deseados de Lima, no han venido ni siguen viniendo a pedir mesas de diálogo o piadosas “mesas de trabajo”. Vienen a gritar su dolor y rabia por sus muertos, su indignación por el menosprecio, los racismos y abusos que han sufrido. Vienen a decir “basta, no más muertos. Han identificado en su razonamiento a una responsable de esas muertes, la presidenta de la república, “Dina asesina”, y quieren que ella se vaya, que se cierre el congreso, que se vayan todos, que se convoque a un referéndum para para preguntar si las peruanas y peruanos queremos una constituyente o no. La presidenta, responde que ella está dispuesta al diálogo, que quiere el dialogo y los invita a visitarla en el palacio del gobierno. Primero, la muerte; el diálogo después. En esas condiciones el diálogo es imposible, tampoco si ella y sus soportes políticos y de defensa están convencidos que quienes piden su inmediata salida son grupos minúsculos violentistas, comunistas, terroristas y… siguen los adjetivos. El dialogo es, en consecuencia, imposible.
Tenemos en Perú una nueva institución llamada “Acuerdo nacional”, como expresión de una buena voluntad para acercar a las partes peruanas que están en permanente conflicto. En cada situación relativamente límite, desde el palacio de gobierno se cita a una reunión del Acuerdo Nacional en el que todas las fuerzas políticas organizadas en partidos o pequeños bloques de alianzas y algunas personalidades “civiles” y religiosas, para conversar y buscar puntos de entendimiento. El Acuerdo Nacional tiene ya 35 políticas de Estado. Como no se trata de un organismo cuyos acuerdos tengan un carácter vinculante, las propuestas son solo ideas que podrían ser tomadas en cuenta o no. Cada una de las tantas reuniones hasta hoy, concluye con una foto de rigor de todas y todos los invitados rodeando al presidente o presidenta.
No tenemos en los 200 Años de república algo llamable una tradición de diálogo y trato fraterno entre peruanas y peruanos. Menos aún, algún ejemplo de reconciliación. El ninguneo, insulto, no reconocimiento, ni respeto de los otros, el cholear y carajear, (cholo de mierda, indio de mierda, negro de mierda) sigue en el inconsciente colectivo de quienes siguen creyendo que los otros que no son nosotros, que las y los diferentes, son inferiores. El proceso de democratización de la sociedad peruana, gracias a las tomas de tierras, posteriores reformas agrarias, fuertes movilizaciones de izquierda, surgimiento de feminismos varios, y una contribución de la corriente Teología de la liberación y su opción preferencial por los pobres, (padre Gustavo Gutiérrez) lograron que parte del universo de opresión colonial sea cuestionado y que surjan organizaciones de defensa de los derechos humanos, una defensoría del pueblo y tengamos una legislación favorable, incluso para condenar conductas racistas. Buenas leyes, que se cumplen a media o simplemente no se cumplen, forman parte de nuestra realidad y son prueba de la presencia y vigencia del pasado.
No conozco casos importantes de algún proceso de reconciliación. La prédica y reclamo de una reconciliación entre adversarios-enemigos sigue siendo una promesa incumplida.
Siete. Fragilidad de la rebelión andina
Las marchas diarias en Lima, continuas desde hace cuatro semanas, como fenómeno político único de un nuevo género de protesta, tiene debilidades visibles debajo de su evidente fuerza. Compromete principalmente al sur del Perú, aunque está presente en el centro, norte y parte del este con menos intensidad, con claras muestras de solidaridad con la rebelión andina del sur. Por las enormes distancias y los precios del combustible para navegar en los ríos, es muy difícil que las comunidades nativas amazónicas envíen delegaciones para plegarse a la protesta andina en Lima. Esa es una particularidad peruana de primer orden. SERVINDI, informa día a día que en prácticamente toda la Amazonía hay marchas y manifestaciones de los pueblos indígenas en abierta solidaridad con la rebelión quechua y aymara.
“Servindi, 13 de enero, 2023.- Indígenas del pueblo Awajún, en Amazonas, bloquearon la carretera a Bagua, en el sector Inayo, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata a elecciones generales.
El bloqueo se produce luego de que, junto a la nación Wampis, dieran un ultimátum a Boluarte para que renuncie o afronte las acciones de lucha. Policías y militares ya están en el lugar, según el líder awajún Bernabé Impi.
‘Ya hemos pasado por los trágicos eventos de Bagua en 2009 y sus lecciones deben ser recordadas por el Perú y el mundo. Que la historia no se repita’ habían indicado previamente en un pronunciamiento las naciones originarias”.
El estallido social del sur, convertido en una sorpresiva rebelión por sus novedades y fuerza produjo el desconcierto y confusión en los cielos de la clase política, en los medios de comunicación, en lo que queda de partidos políticos y en buena parte del mundo académico. Cuando la policía en Perú sale a hacer su trabajo armando a sus efectivos con fusiles de guerra Galil, comprados a Israel, es porque considera que los comuneros andinos quechuas y aymaras son el “enemigo interno del Perú”, tanto o más peligroso que los enemigos externos, por poner en peligro la integridad de la nación peruana. Dentro de ese esquema de guerra en tiempos de paz internacional sudamericana, los peruanos seríamos amigos o enemigo. Lamentablemente, ese razonamiento sigue en pie, viene de lejos. No Sabemos hasta cuándo.
Para los medios de comunicación concentrados lo más importante de las voces nuevas y fuertes del sur, es inentendible; por eso, repiten un viejo disco: no se ha hecho nada por el sur; faltan allí, carreteras, escuelas, hospitales, y una larga lista de servicios y obras, pese a que se han construido carreteras interoceánicas y construido muchas obras. Si solo se tratase de obras de infraestructura, no serían tan graves los problemas.
Para lo que queda de los partidos de las izquierdas, lo importante gira siempre alrededor del poder formal expresado en un número de curules que sirven para tener más curules, por eso de “salvo una curul, el resto es ilusión”. La mayoría de peruanas y peruanos que sufre el Perú está muy lejos de esa corriente y no se siente representada en el Congreso; de ahí deriva el estribillo de hoy: “Que se vayan todos”.
El tema del liderazgo preocupa y molesta. Como no aparecen lideres individuales, y falta información e imaginación para entender lo que significaría Mandar obedeciendo, como expresión de una dirección colectiva que encarga a los líderes individuales vigilar el cumplimiento de sus acuerdos, queda el camino fácil de suponer que debe haber un líder escondido; si no fuera así, Evo Morales no sería considerado como el demonio “comunista internacional” que movería los hilos de lo que pasa en Perú y hasta exportaría “sus balas dum dum”.
Un estallido social que se convierte en rebelión, precisamente porque va de abajo hacia arriba, no tiene un dirigente, un caudillo, un jefe. La primera chispa que encendió el estallido fue el dolor de los hijos caídos por las balas de la policía y el ejército, por la convicción colectiva de exigir que los responsables de esas muertes, sean identificados, juzgados y condenados. Ese sería el camino para que su duelo termine lo más pronto posible. La idea de ir a Lima para expresar esa protesta y ese sentimiento profundo, fue la segunda chispa que multiplicó la presencia en Lima a través de olas sucesivas de enviados por sus comunidades, ayllus o pueblos. La tercera chispa, fantástica, fue el servicio de los grupos de Whatsapp para enviar segundos después de tomadas las fotos, las imágenes de los abusos policiales, de los disparos de bombas lacrimógenas, de las víctimas aún con vida, suficientes para “viralizar” esas noticias, sin que gran parte de los medios de comunicación las difundan. Ese es el nuevo recurso para los de abajo. Imposible quitar millones de celulares, imposible bloquear las imágenes que no requieren palabras ni ordenes de jefes para ser entendidas y multiplicadas. Los colectivos de Whatsapp, fueron, son y serán indispensables para coordinar en tantos niveles como sean necesarios. Los millones de imágenes y videos enviados y reenviados, tienen sobre la actuación de policías y soldados, el mismo efecto que tuvo la pandemia para las derechas en el país: las mostró desnudas, con todas sus grandes y pequeñas miserias. Ellas, escondieron debajo de la alfombra el lado oscuro del aparente milagro económico capitalista, cuando vimos morir en las calles a hermanas y hermanos nuestros porque no hubo un balón de oxígeno, un policlínico, un hospital, ni una UCI para atenderlos, en un sistema de salud profundamente injusto, con grandes clínicas privadas para unos pocos y hospitales públicos igualmente para pocos, con escasos recursos e infraestructura.
En las condiciones que acabo de describir, no tiene de donde salir un liderazgo individual capaz de dirigir toda la rebelión. Lo evidente es una coordinación múltiple, diversa y eficaz, que contó y cuenta con una solidaridad extraordinaria, igualmente diversa y creciente de personas que no apoyan a tal o tal partido sino a peruanas y peruanos que merecen respeto, que son quechuas y aymaras, venidos de lejos, y cuyas voces expresan una causa que busca justicia, voces que hablan del olvido, de la profunda opresión que sufren.
Toda primera rebelión, abre un camino a seguir; los pasos siguientes vendrán, seguramente, no sabemos cuándo. Tal vez esté cerca otra rebelión de lo que hoy se llaman pueblos jóvenes en Lima y las grandes y medianas ciudades. Y, para más tarde, otra que sume y sintetice todas las anteriores. Han sido, son y serían las corrientes subterráneas de cambio que no pueden sentirse desde el poder.
Queda las incógnitas sobre el futuro que el presente-pasado de hoy contiene. Habrá corrientes del pasado que tratarán de apropiarse de la fuerza de esta rebelión. Tengo alguna premonición de que pronto surgirán nuevos liderazgos dentro y fuera, diferentes a los que ya tuvimos y, ojalá, con lealtad al principio mayor que corre por las calles de todas las Limas que esconde el singular Lima y de todos los Perúes escondidos por el singular Perú: Lo que viene de abajo, prende porque brota de raíces fuertes y nuevas. Lo que viene de arriba con la pretensión de llegar al pueblo se pierde en el camino y no llega. Esa es la lección mayor por aprender, por guardar en el corazón y en la memoria.
Ocho. Previsibles tendencias de cambio. Incógnitas abiertas
Las marchas organizadas desde distritos limeños del norte, este, centro y sur, el sábado 4 de febrero han mostrado una participación mucho más numerosa de manifestantes provenientes de los pueblos jóvenes en los distritos de esas zonas de Lima. Los dueños y jefes de los medios de comunicación concentrados, lo temían; por eso, decidieron no pasar en sus pantallas las imágenes de las marchas que partieron de los distritos de todas las Limas.
Es usual que, en períodos de crisis, el miedo a dramas mayores obliga a las llamadas democracias presidencialistas como la peruana, a apelar al fetiche de adelantar las elecciones generales como aparente solución política. La primera propuesta de adelanto de elecciones se produjo luego de la caída de Castillo y su reemplazo por Dina Boluarte. Cuando el país fue sacudido por una ola represiva brutal para apagar el pequeño incendio que surgía en el Sur, con las masacres de quechuas y amaras en Ayacucho y Juliaca, la mayoría de actores congresistas representaron una comedia para convocar a nuevas elecciones con la esperanza de acabar con la rebelión quechua y aymara que ellas y ellos no entienden ni quieren entender.
En la primera semana de febrero, la comedia terminó con el rechazo y envío al archivo de los 4 proyectos de adelanto de elecciones. No se va nadie, se quedarían la presidenta y los congresistas, por un año más o hasta 2026 si es que la llamada “subversión comunista” se agota luego de dos meses de marchas continuas en un tercio del país o es reprimida con más sangre pese a la promesa “ningún muerto más” exigida por la mayoría de peruanas y peruanos. La fragilidad del gobierno no puede ser mayor. La derecha unida no ha roto con la presidenta Dina Boluarte; con el rechazo de su propuesta, la coloca en una situación muy delicada pues si ella quiere seguir en el gobierno tendría que aceptar nuevas y más duras condiciones. La presidenta Boluarte y sus aliados de las derechas tratan de hacernos creer que no prestan ninguna atención al clamor general para que ella renuncie y se cierre el Congreso (“que se vayan todos”) porque creen que la “ley está por encima de la protesta” y porque se sienten defensores del Estado de derecho. Si como suponen, las protestan estarían ya agotadas, podrían quedarse. Si, por el contrario, estas continúan y, peor aún, con más fuerza, la renuncia de la presidenta podría ser la única salida a la crisis, e inevitable el adelanto de las elecciones. Si así fuera, la rebelión andina quechua y aymara conseguiría “que se vayan todos”, las derechas no tendrían cómo ocultar su derrota.
En 1992, publiqué en la revista del Memorial de América Latina en Sao Paulo, (Brasil) el artículo Sobre democracias incipientes y vigiladas, con un argumento sencillo: las fuerzas armadas asumen la defensa de la democracia y si esta se encuentra en peligro, pueden intervenir con un golpe de Estado, como el que dieron en alianza con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en 1992, con la esperanza de gobernar 20 o 30 años, Ocho años después, el gobierno de esa alianza terminó con la cárcel para Fujimori, Montesinos, algunos generales del ejército entre ellos Hermoza Ríos, y con un enorme desprestigio de las fuerzas armadas. Es cierto que hay en América Latina una especie de pacto político para no permitir nuevos golpes de estado militares o “cívico-militares”; no obstante, es posible que cuando la precariedad democrática se ahonde mucho más, las fuerzas armadas pueden volver a intervenir.
Cierro este artículo dando cuenta que ayer la ciudad de Puno amaneció militarizada por decisión gubernamental de declarar el Estado de emergencia por 60 días y de 10 de inmovilización en Puno, Madre de Dios, Cusco, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Sobre esta militarización, dicen dos de las fuentes del diario La República:
“El Gobierno cree que enviando más militares o policías nos va a asustar. De ningún modo. La huelga continúa, sea cual sea la circunstancia. Un mes de huelga indefinida no puede ser en vano y más de 50 muertos no pueden quedar impunes. Nos han humillado a los aimaras y quechuas, y eso no lo vamos a perdonar nunca hasta que renuncie Dina Boluarte, sí o sí”, aseguró Renato Flores, dirigente del distrito de Chucuito.
“Lo único que está haciendo el Gobierno es que entre peruanos nos odiemos más. Detrás del uniforme también está un paisano nuestro. Varios soldados terminaron en el hospital por hipotermia. A nosotros no nos afecta la lluvia porque estamos acostumbrados. Así caigan rayos o truenos, la huelga continúa hasta que se vaya Dina Boluarte”, dijo Cornelio Quispe, natural del distrito de Laraqueri, Viscatán-Huanta-Ayacucho. (Fuente: Control del orden interno en Puno en manos de las FF.AA).
Se dibuja la solución militar en el tramo próximo de la rebelión quechua y aymara. Fuertes, los del poder; sin armas, los que se defienden de ese poder. Solo con sus razones, buenas razones y su derecho a ser peruanos como los otros, peruanos y al mismo tiempo quechuas, aymaras, awaqun, ashaninkas o piro. Con una bandera nueva: NI UN MUERTO MAS.
Nueve. Potencialidades
De una mirada atenta al proceso peruano, su enorme y creciente crisis en los últimos dos meses,
1. Fortaleza de las comunidades como unidades colectivas de los pueblos quechuas para sus futuras reivindicaciones como las abanderadas de la defensa del planeta y de la propia especie humana. Por ahí pasa el camino de lo nuevo y urgente en la política peruana.
2. Nuevas bases para liderazgos políticos e intelectuales.
3. Posibilidad de reencuentro de la política y la esperanza, de la confianza en otro tipo de política.
4. Abierta posibilidad de acabar con la lucha cultural separada de la lucha política. Tenemos ya un primer encuentro real entre Arguedas y la política. No tiene sentido folclorizar a las culturas para separarlas de la política como proponen los ministros de cultura, sin excepción, no tiene sentido. Después de esta rebelión, las culturas tendrán menos ataduras de la llamada alta cultura y, por eso, más fuerza en sus propuestas. La defensa del agua-vida es la defensa del planeta y de nuestra especie. Esa lucha es anterior a esta rebelión y viene de las comunidades andinas y amazónicas.
5. “Ni un muerto más” es la consigna que a partir de esta rebelión obligará a militares y policías a pensar de nuevo el papel que les toca jugar reprimiendo a las comunidades andinas aymaras, quechuas y amazónicas. Si siguen por ese camino, tendrán dificultades crecientes. En el campo de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de las capas populares urbanas y todos los aliados, de estudiantes, artistas, profesionales e intelectuales, la consigna “Ni un muerto más” debe estar permanentemente en sus memorias.
6. ¿Hasta cuándo habrá que esperar que las fracciones de la derecha peruana sigan sin entender el país en el que tienen sus mejores ganancias y condiciones de vida? No pudo extraer las lecciones dadas por la realidad. Estas fracciones y su bloque militar-policial no quisieron entender el informe final de la Comisión de la verdad, a pesar de sus varios y serios errores y vacíos y, por el contrario, reafirmaron su vieja seguridad de creer que se defiende la democracia matando y que los indígenas peruanos no son ciudadanos y que son una traba para el desarrollo, su desarrollo capitalista. No entendieron las lecciones de la rebelión amazónica de Bagua en 2008-2009. Se llenaron de palabras bonitas sobre lo que la pandemia: “la normalidad no será nunca la misma”, “Hemos cambiado todos”. Ahora que la quinta ola se va apagando y mutando, volvieron a lo mismo. De sus buenos deseos no queda nada. Tampoco entienden lo que pasa hoy, no quieren entender y solo alientan una solución militar y policial, como sus ancestros desde 1532.
7. NI UN MUERTO MÁS.
8. Lo que viene de abajo prende porque brota de raíces profundas. Lo que viene de arriba con la pretensión de llegar al pueblo se pierde en el camino y no llega. La lucha por el agua-vida y por la Amazonía vida, iniciada por las comunidades andinas y amazónicas, viene de abajo.
Son también muchas las ausencias. Llamo la atención sobre la más importante: la amenaza de muerte del planeta en el que nuestra especie homo sapiens vive, sobrevive y se sostiene. Tenemos el deber de aprender que debemos situar el Perú y su futuro en el contexto global de defensa de nuestra especie humana en el planeta tierra. Otra vez, en el horizonte aparentemente lejano, tendremos una nueva opción: por la vida o por la muerte. Esa podría ser la última que nos quede como seres humanos. Tenemos el deber de preguntarnos por la responsabilidad del capitalismo en la gravísima crisis de vida del planeta. La lucha de los pueblos andinos en defensa del agua-vida y de las comunidades nativas de la Amazonía-vida, que vienen de lejos, nos señalan el camino a seguir.